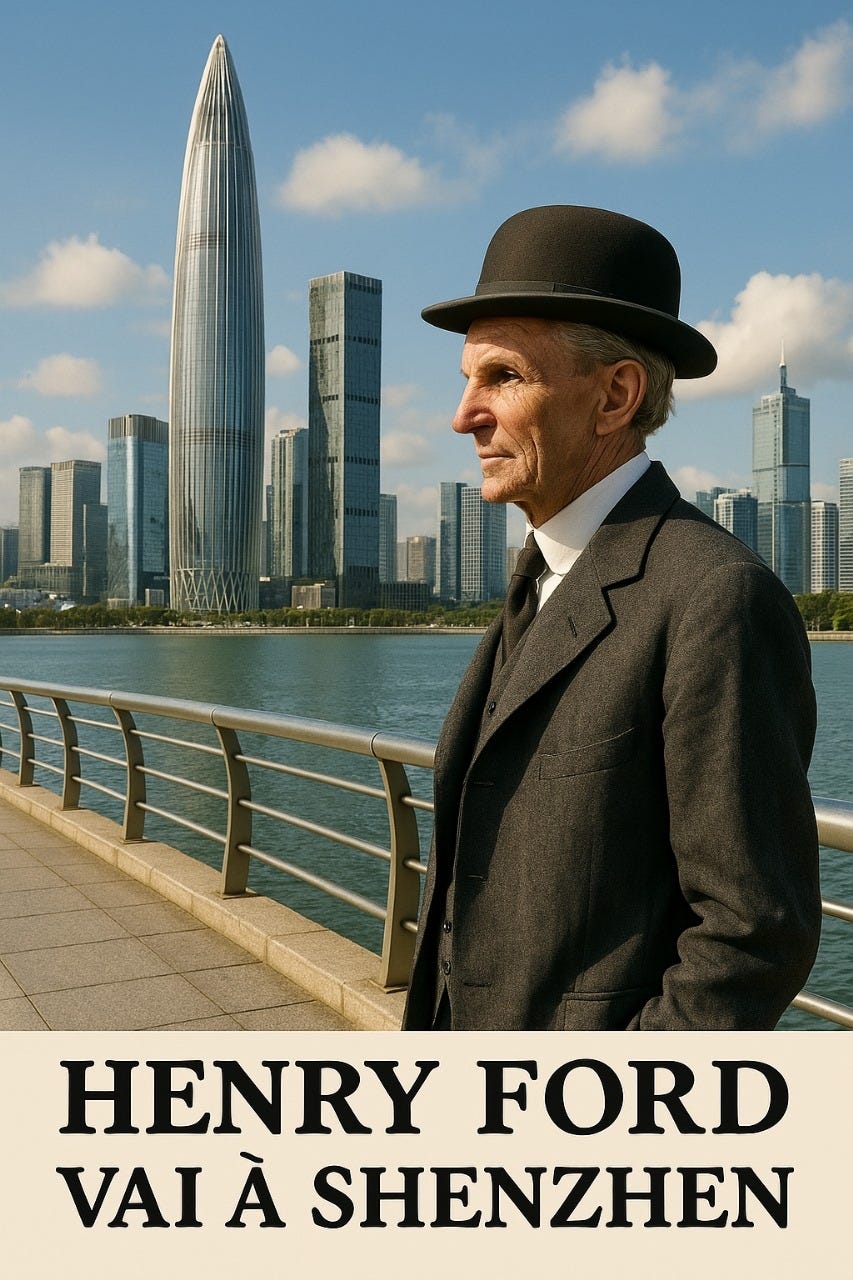Henry Ford vai à Shenzhen?, por Leandro Theodoro Guedes
Henry Ford vai à Shenzhen?
Por Leandro Theodoro Guedes (@theodoroguedes93)
A produção de veículos tem sido o palco das principais análises sobre o processo de trabalho no último século. Não é possível determinar um motivo claro para isso, mas aspectos como a irradiação da produção em massa para vários tipos de mercadorias, a importância dos veículos na vida cotidiana com o processo de urbanização e desenvolvimento de metrópoles e a imponência das grandes corporações que dominam o setor podem ser algumas delas. Fato é que conceitos como fordismo e toyotismo são muito comuns para tentar explicar os rumos da exploração do trabalho e até mesmo os ciclos de acumulação do capitalismo.
Sem nenhuma pretensão generalizante, é possível tomar essas categorias como importantes para explicar determinados estágios da relação entre base técnica e organização do trabalho no setor automobilístico (e talvez em alguns outros relacionados com a montagem de máquinas com milhares de peças). Esse setor, por sua vez, apresenta, nos últimos tempos, uma importante mudança que merece ser acompanhada. Trata-se do aumento da produção dos carros elétricos. Em menos de uma década, a venda desses veículos passou de 2 para 20% do total de carros vendidos.
Esses veículos possuem especificidades no processo produtivo. Mais do que isso, sua produção tem sido impulsionada pelas empresas chinesas que passaram a figurar entre os líderes do mercado nos últimos anos. Por isso mesmo, acompanhar as transformações na produção a partir do país asiático é interessante para compreender a extensão dessas transformações no processo de trabalho.
Historicamente, o fordismo se colocou como grande paradigma da produção de veículos. Os aspectos determinativos do fordismo, na sua raiz no início do século XX, podem ser resumidamente colocados como um método de produção de veículos típico da base técnica manufatureira, que insere implementos mecânicos ao longo da linha de produção (como a esteira mecânica e cabos de aço para a movimentação dos veículos em construção), reduzindo as necessidades de movimentação interna dos trabalhadores, que continuavam operando suas ferramentas, mas em pontos fixos. Esse processo de montagem, precedido pela usinagem padronizada de peças, facilitada para concentração na fabricação de um único modelo, o famoso Ford T, configurava uma organização do trabalho que buscava extrair a maior produtividade possível dos trabalhadores diante daquelas restrições técnicas (Moraes Neto, 2003). Mas o fordismo não se restringiu somente ao processo de trabalho.
O próprio Henry Ford em sua biografia “Minha Vida e Minha Obra” destaca outras importantes peças de seu quebra-cabeça: a busca pela produção aos menores custos possíveis, que viabilizavam a venda dos veículos a preços mais baixos e a adoção da integração vertical, o que significava que a Ford se apoderava do máximo de estágios possíveis da cadeia de produção, desde a fabricação de insumos até a venda dos veículos, além do disciplinamento da força de trabalho, que ia de uma política salarial vinculada à produtividade até o controle da vida privada dos trabalhadores. Tudo isso erguia uma corporação gigante que apostava na venda massiva de veículos para conseguir absorver os altíssimos custos de produção e ainda extrair lucratividade. Não seria equivocado dizer que o fordismo também apresentou uma estratégia de gestão da grande corporação capitalista. Ainda que a sua validade se desse num contexto muito específico.
A crise econômica em 1929 e a escassez de recursos provocada pela guerra são fatores que colocaram questões às quais o fordismo não teve respostas imediatas. Isso abriu espaço para a tentativa de elaboração de métodos diferentes que tinham a mesma finalidade. É possível destacar algumas mais tímidas como a de Alfred Sloan, na GM, que descentralizou as decisões e diversificou os modelos produzidos em busca de uma maior fatia de mercado, ou mesmo o volvismo sueco, que criava os grupos semi-autônomos de trabalho.
Mas nenhuma resposta se equipara à relevância do Toyotismo. Não poderia ser diferente com um método de gestão capaz de alçar uma montadora dos escombros da guerra à liderança do mercado mundial. Em relação ao fordismo, o Toyotismo não ofereceu nenhuma inovação em relação à base técnica, que permaneceu manufatureira. A empresa japonesa, que iniciou como uma indústria têxtil, teve como inspiração a capacidade que os teares automáticos tinham para parar a produção em qualquer sinal de erro. Esse cuidado era importante diante da restrição de recursos imposta pela guerra e deu marcha ao controle da qualidade, um dos pilares do modelo japonês. Passou-se a privilegiar a eliminação dos estoques e a redução dos erros na produção. As grandes modificações ocorreram na organização logística interna. A movimentação dos veículos pela linha de montagem era controlada e a produção praticamente feita sob demanda. A redução no volume também favoreceu novas formas de organização do trabalho com “trabalhadores polivalentes-desqualificados” (Moraes Neto, 2003), que mudavam sua posição nos diferentes estágios de produção. O Toyotismo partiu do fordismo e não se colocou como uma negação daquele, mas como uma alternativa ou ainda como complemento na medida em que passou a tratar de aspectos ainda não resolvidos anteriormente. Do ponto de vista mais geral, o Toyotismo se caracterizava por uma produção enxuta que também significava um rompimento com a ideia de integração vertical. Agora, o objetivo era concentrar-se apenas na atividade central e buscar fornecedores para insumos e distribuidores para a comercialização dos veículos. O foco passava a ser a redução máxima dos custos. Seria uma forma de tentar lidar preventivamente com as crises que poderiam desencadear o declínio de vendas. Assim como o fordismo, tratou-se de uma estratégia de gerência da grande corporação.
No contemporâneo, a novidade vem das montadoras chinesas, especialmente a BYD, empresa sediada em Shenzhen que produz veículos elétricos. No último ano a China exportou quase 6 milhões de veículo, dos quais boa parte é produzida pela montadora. A produção de veículos atual apresenta uma mudança mais significativa na base técnica. Se os métodos consagrados pela literatura estavam inseridos no contexto da manufatura, agora já é possível dizer que a produção de veículos chegou à grande indústria. Alguns fatores são interessante prova disso. Analisando o processo produtivo, é possível ver como o sistema de máquinas que há algum tempo já domina o processo de usinagem, passa a dominar o processo de montagem dos veículos. Ainda que haja a dependência de trabalhadores operando as ferramentas, eles estão limitados a poucas operações. O setor automotivo é um dos que mais emprega robôs nas linhas de montagem, que se estendem em operações de movimentos manuais, solda, pintura e outras. A maior parte da força de trabalho supervisiona as máquinas. Isso não é exclusividade da BYD ou da produção de carros elétricos, é um processo que já vem acontecendo nas principais montadoras, mesmo de veículos a combustão, há algum tempo. Mas os números alcançados pela BYD e o ritmo acelerado de seu crescimento são um elemento que chama a atenção.
Aproveitando-se do imenso mercado chinês, a BYD adota uma estratégia que busca baratear ao máximo o custo dos insumos e da força de trabalho para produzir veículos a um preço mais baixo. Considerando os custos de produção, entre insumos e salários, o custo de um modelo popular da empresa chinesa é cerca de 30% mais barato em relação aos concorrentes ocidentais. Além disso, o forte impulso financeiro de subsídio dado pelo governo chinês, que também adota políticas de incentivo para a compra desses veículos, levou a empresa aos mencionados números expressivos. Essa tem se tornado uma razão importante para que a empresa consiga exportar veículos para o mundo todo, ameaçando a própria continuidade de montadoras já estabelecidas. Mais ainda, a BYD adota a integração vertical. No caso da produção dos elétricos, esse é um fator determinante uma vez que as baterias, que eram o principal produto da empresa quando da sua fundação, são responsáveis por boa parte dos custos de produção. Mas a integração alcançada pela montadora chinesa chega ao ponto de ela ser a própria fabricante dos navios que levam seus veículos para os mais variados países do mundo.
Se do ponto de vista da organização do trabalho parece não caber mais a comparação direta com o fordismo ou com o toyotismo, dado o salto tecnológico que impõe novas formas de organização do trabalho. Do ponto de vista da gestão da grande corporação capitalista, contudo, a empresa chinesa emprega a mesma estratégia que Henry Ford talhou para levar a Ford à liderança. Isso certamente acontece porque condições favoráveis se repetem: o amplo mercado estadunidense do qual Ford dispunha nas primeiras décadas do século XX parece também se apresentar agora na China, assim como o disciplinamento dos trabalhadores e o acesso aos insumos principais, além do domínio das tecnologias primárias para o processo produtivo. Mesmo num estágio técnico diferente, a estratégia de gestão da grande corporação voltada para a produção em massa e redução dos custos é revivida.
O capitalismo contemporâneo não é o mesmo do início do último século, mas ainda é o capitalismo. E os métodos de gestão da corporação capitalista permanecem potenciais enquanto o próprio capitalismo se estende, uma vez que o objetivo dessas corporações segue o mesmo, a aceleração da acumulação de capital para a expansão até a dominação total dos mercados, os métodos de gestão disponíveis permanecem como alternativas.
A empresa chinesa tem se mostrado como um novo paradigma para a análise do processo de trabalho, sobretudo pela ruptura na base técnica, aspecto que ainda está por ser descortinado. Mas ao mesmo tempo ela se apresenta num plano de continuidade quanto à estratégia de gestão em relação ao próprio fordismo e isso acontece porque, ao contrário da base técnica, a condição de grande corporação capitalista é idêntica.
Não queremos com isso insinuar que a grande indústria se apoderou totalmente do setor automobilístico, ou que o a estratégia da BYD se coloca como possiblidade de generalização de sua estratégia de gestão. O que acontece atualmente é produto de circunstâncias muito específicas, mas no interior do modo de produção capitalista, que é propriamente um limitador para a elaboração desses métodos.
Referências:
FORD, Henry. Minha Vida e Minha Obra. São Paulo: Companhia Graphico-Editora Monteiro Lobato. 1925
MORAES NETO, Benedito. Século XX e Trabalho Industria. São Paulo: Xamã. 2003.